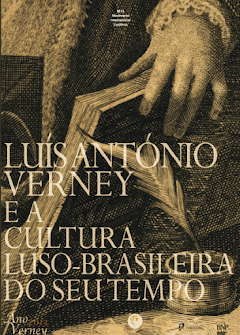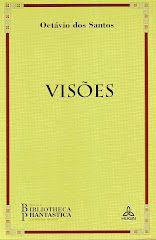No passado
dia 12 registei a existência de (mais) uma recente recensão ao meu livro
«Espíritos das Luzes», escrita e publicada cinco dias antes por Artur Coelho no seu blog Intergalactic Robot. E prometi para breve uma resposta. Pois bem, ela
aqui está…
… E começo
por reproduzir e destacar dessa recensão os elogios de âmbito geral, e até
específico, àquela minha obra, que são vários: «Este livro assenta sobre aquilo que, de forma muito
óbvia, foi uma forte investigação sobre a época. A bibliografia e discografia
que o encerra é (são) muito interessante(s). Pega num momento marcante da
história portuguesa e especula num misto de fantástico com Ficção Científica.
Recupera na memória do leitor grandes vultos da cultura e política da época
iluminista. Consegue invocar, ao longo dos capítulos, uma curiosa estética,
misto da iconografia barroca com high tech. (…) Até me encantou (…) a curiosa
cosmogonia do universo ficcional deste devaneio cyber-barroco. Octávio dos
Santos imagina os países da Europa setecentista como planetas, interligados por
vias galácticas sulcadas por passarolas. Confesso que é uma visão que me atrai,
a recordar ilustrações novecentistas do sistema solar enquanto esferas nas mãos
de malabaristas, invocando imagens de uma Lisboa barroca com passarolas
gigantes suspensas nos céus. Tem o seu quê de fantasia mágica. (…) No meio de
tudo isto, há uma história, um fio condutor que até tem interesse. Nesta Lisboa
alternativa, o terremoto provocou uma fissura no espaço-tempo que mostra um
vislumbre de uma outra Lisboa, arrasada pelo tremor de terra, onde as
passarolas nunca voaram. (…) Na vertente périplo, consegue pontos de
interesse, na recriação da Ópera do Tejo ou no infame capítulo onde a
sensualidade mordaz da poesia de Bocage é explorada num boudoir subterrâneo
do Café (Clube) Nicola. Um capítulo divertido na sua perversão e sanidade
mental questionável, que merece ser lido. A sério, atrevam-se.»
Porém, a
classificação final dada por Artur Coelho ao meu livro, revelada no GoodReads,
foi, algo inesperada e contraditoriamente, de duas em cinco estrelas – aliás,
foi aumentada, pois antes chegou a ser de uma! E qual foi a avaliação final,
resumida, correspondente àquela reduzida («negativa») classificação? «Falha
redondamente». E porquê? «Archizero» afirma que «Espíritos das Luzes» se «perde
nas inconsistências». E quais são essas supostas «inconsistências»?
Uma será a
própria designação que faço da minha obra enquanto «ficção científica»… embora
para Artur Coelho não o seja, porque a FC é um «campo que exige todo um outro tipo de construção de
mundo ficcional, mais assente em pressupostos rigorosos do que num imaginário
solto mais próximo da fantasia.» Desde quando é que é obrigatório que na ficção
científica existam sempre «pressupostos rigorosos»? E em que consistem exactamente
esses pressupostos? Em explicar detalhadamente como se chegou à concepção de
determinados métodos e técnicas de transporte, comunicação, trabalho e
entretenimento, de determinados sistemas de organização política, social e
económica? Quanto mais «próxima» de nós está a FC em causa, mais esse rigor,
concordo, deve existir; porém, «Espíritos...» desenrola-se numa dimensão espaço-temporal
alternativa, em que naquela os países que conhecemos são planetas! Maior «falta de rigor» inicial é
impossível, ou pelo menos muito difícil. No mesmo sentido vai a «queixa» de que
«elementos tecnológicos no livro, que aparecem sem contextualização, dando a
sensação que estão lá só porque sim, porque pareceu bem meter nanotecnologia
dentro de uma paisagem barroca ou autómatos a reconstruir a Ópera do Tejo». De certeza
de que são «sem contextualização»? Olhe que não… esses elementos
aparecem quando são necessários e não aleatoriamente. Será o Artur capaz de
«jurar» que em outras obras de FC, incluindo muitas das «clássicas», das
«consensuais», não existem por vezes elementos tecnológicos sem
«contextualização» e «pressupostos rigorosos»?
Outra
«inconsistência», ou «dissonância», «que
torna esta leitura mais penosa é aquele(a) que prometia ser o(a) mais
interessante»: a
utilização, como diálogos, de «discursos» - enfim, textos autênticos – das
personagens históricas introduzidas e «transformadas» (expressão minha) na
narrativa; mas, atenção, não é esse recurso em si o problema para Artur Coelho
mas sim a alegada «propensão
do autor a despejar parágrafos e páginas inteiras dos escritos originais.» Poderá
ser difícil a AC, e a outros, acreditar, mas o que lhe(s) parece «despejo» foi, e
é, na verdade uma selecção cuidadosa, ponderada, com conta, peso e medida, e
sempre adequada às diferentes «situações» que imaginei. Não, obviamente que nem
todas as citações ocupam uma página. Mas, sim, algumas são longas, e isso foi deliberado, intencional; são densas e
até mesmo desequilibrad(or)as, mas tal faz parte da estética da obra, porque replicam,
reproduzem, os próprios excessos da época e das personagens que eu revisito e
reformulo. «Archizero» parece admitir que «perde(u) logo o fio à meada». Sim,
isso é um problema… mas dele, não meu. Seria de esperar que alguém que já leu
tanto – incluindo bastantes livros de índole tecnológica – conseguisse
aguentar, e sem se «perder», umas passagens mais compridas e que lidam com
temas que não se podem exactamente considerar complexos.
Enfim, a
única «inconsistência» explicitamente indicada por Artur Coelho refere-se às «escalas» (distâncias) que «não são
consistentes ao longo da narração». E porquê? Porque «umas vezes estão
expressas, outras não». No entanto, e obviamente, não há qualquer
«inconsistência» por eu não estar sempre a fazer, e a mostrar, «contas»,
números de quilómetros, ou outro tipo de medição; haveria, sim, se eu me
enganasse, se eu desse valores numa certa instância que estivessem em
contradição com os de outra. Todavia, e muito, muito mais significativa, é a
confissão feita por AC de que «não
consegue conceber uma distância de dezenas de quilómetros do Terreiro do Paço
ao Palácio Foz.» Sim, isso é outro problema… mas também dele, não meu. Eu tanto consigo conceber… que concebi mesmo. E eu sou lisboeta! Uma
Lisboa «pequena», como a que existe na realidade, num «planeta Portugal» é que
seria (muito) «inconsistente». Logo, é indiscutível que «o imaginar de Lisboa como um espaço imenso,
com as distâncias ampliadas em mega escalas, é outro elemento que também»… funciona.
O principal
problema - não meu, logicamente – está precisamente nisto: o de que há quem
queira e consiga… conceber, e há quem não queira nem consiga. Paciência! Efectivamente, tudo se resumirá a uma questão de escala… pessoal, e não só. É
por isso que uns criam e outros… criticam. E, porque muitos deles (a maioria) não
têm essa experiência, essa faceta, de criadores, os críticos mais facilmente –
e levianamente – desvalorizam e até desprezam o que aqueles, tantas vezes com
elevados sacrifícios pessoais, fazem. Assim, nesse sentido, se por um lado devo
congratular Artur Coelho por ter lido o meu livro na íntegra antes de opinar
(algo deficientemente, é certo) sobre ele, por outro lado devo, ainda mais
veementemente, condená-lo por – reincidindo num lamentável
procedimento que eu, em ocasiões
anteriores (com outras obras e outros autores), já lhe censurara – se permite
armar em «spoiler» e revelar o final, o desenlace, daquele. Para tal ele dá a
«justificação» (?) de que «não estou preocupado porque ao que parece
nenhum leitor chega ao fim deste livro» - tanto mais insólita porque ele
próprio chegou ao fim, e, obviamente, antes dele, e por mais incrível que isso
possa parecer, outros também chegaram. Entre os quais, nomeadamente, este português e este inglês.
Esta atitude – indigna, não é de mais salientá-lo – de
desrespeito por parte de Artur Coelho, à semelhança do seu derradeiro e
desfavorável «veredicto» dado a «Espíritos das Luzes», acontecem
fundamentalmente, acredito, por «group think», por «peer pressure»: AC refere
«outros leitores deste livro, que (…) detestaram a curiosa cosmogonia» patente
na minha obra, e admite que «gostaria
de ter chegado ao final desta leitura com uma opinião contrária às que tenho
ouvido sobre esta obra. Infelizmente, não consigo.» Não consegue… ou não quer?
Quem são esses «outros que detestaram», que fazem com que o capítulo sexto seja
«infame», e que «Archizero» tanto respeita – ou receia – a ponto de as opiniões
deles ouvidas anularem os «elementos intrigantes» que encontrou? É pouco
provável que os identifique ou que eles próprios se assumam… embora eu talvez
fosse capaz de adivinhar quem são. De uma coisa pelo menos eu
tenho a certeza quanto a essas «luminárias»: nunca até hoje secundaram a
posição que eu enuncio e demonstro no meu artigo «A nostalgia da quimera»,
publicado há quase cinco anos, de que «o fantástico é o género dominante na
literatura portuguesa». Preferem, aparentemente, continuar a ser membros de uma
espécie de «Portugal dos Pequenitos da FC & F», conformados por estarem
confinados a um sub-género que reconhecem (mas eu não) como inferior, se não
por palavras, então por (falta de) actos. «Espíritos das Luzes» é a expressão,
na ficção, daquela minha reflexão e da crença que a anima: imagina um Portugal
grande, maior (um planeta!), e, logo, uma Lisboa grande, maior; e, sim, isso
também pode implicar citações, e parágrafos, grandes, maiores.
Não é de agora – aliás, e infelizmente, há uma antiga e
funesta «tradição» disso – que a originalidade e até a radicalidade de certas
obras sejam confundidas com a sua (suposta falta de) qualidade, e que na
sequência disso sejam rejeitadas inicialmente. Acredito que «Espíritos das
Luzes» se encontra nessa categoria. Porém, leitores, «críticos», editores, já
há muito que deveriam ter aprendido com os exemplos e com as lições do passado
para não continuarem a cometer os mesmos erros de avaliação e de decisão no
presente. Quantas vezes aconteceu, ao longo da história cultural em geral, e
literária em especial, que a «bizarria» de ontem (hoje) é a genialidade de hoje
(amanhã)? Só por isso deveriam ter mais cuidado, não vá dar-se o caso de,
depois, arrependerem-se amargamente… por os seus «retratos» para a posteridade
não se revelarem, afinal, os mais favoráveis. (Também no Simetria.)