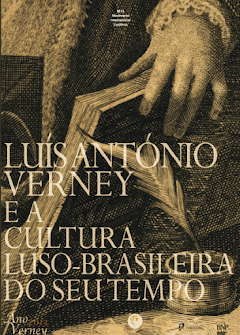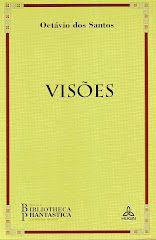Depois de fuzilado/ao levar/o tiro na nuca pra acabar/chateou-se/e viu-se obrigado/a explicar/ao major/que comandava o pelotão/que o tinha fuzilado/por favor/preste atenção/e não me obrigue a repetir/a repreensão/na próxima vez/que mandar matar/dê tempo ao morto/pra gritar/convicto/um último viva a revolução.
Mário-Henrique Leiria
Não é raro ouvir-se por aí que a «ficção especulativa» portuguesa não tem raízes, ou, se as tem, são tão ténues, esparsas e engastadas em terreno tão ingrato que mal servem para aguentar um pequeno arbusto, quanto mais uma árvore frondosa e ramalhuda, corcovada ao peso de suculentos frutos.
Felizmente esta visão pessimista – e acentuo o termo visão já que, no caso vertente, de Visões se trata! – esta visão pessimista, dizia eu, não tem fundamento. Existem, na tradição literária e artística portuguesa, copiosos exemplos do que nos últimos vinte ou trinta anos se convencionou chamar «ficção especulativa», curioso sintagma cunhado pelos anglófonos (speculative fiction) que abrange um vasto leque que vai da ficção científica mais «dura» (hard SF) até ao fantástico que segundo alguns especialistas não é um subgénero nem uma forma mas uma estrutura, e abrange campos tão díspares como o surrealismo, o sobrenatural, o mágico, o horror, o visionário, o conto de fadas, o grotesco, o maravilhoso, a fantasia heróica, o monstruoso, a tecnofantasia... Sim, temos na nossa tradição cultural, tanto nas letras como nas artes, exemplos de autores que navegam e navegaram pelo maravilhoso e pelo imaginário, e a existência desta colecção, «Bibliotheca Phantastica», é disso prova pela necessidade que não poucos têm sentido de conhecer o que se faz e o que se fez, em Portugal, nesse vasto território.
O que sucede, desditosamente, é que a tal visão pessimista referida acima é possível devido à voluntária ignorância em que a generalidade do nosso público se enquista no que concerne aos valores «tradicionais» da cultura portuguesa, entendendo, por um periférico e provinciano vício de tortuoso intelectualismo, que só o que é estrangeiro (francês até aos anos 60 do século XX, anglo-americano de então para cá) é que a tal visão pessimista referida acima é possível devido à voluntária ignorância em que a generalidade do nosso público se enquista no que concerne aos valores «tradicionais» da cultura portuguesa, entendendo, por um periférico e provinciano vício de tortuoso intelectualismo, que só o que é estrangeiro (francês até aos anos 60 do século xx, anglo-americano de então para cá) é que merece atenção e vale a pena saber de cor, e que das nossas raízes pouco mais se aproveita do que Camões (do qual pouco ou nada leram) e Eça de Queirós. Já os nossos escritores do século xix se queixavam que vivíamos com o embasbacado olho posto no que nos vinha lá de fora, e sobranceiramente virávamos as costas ao que de melhor se fazia por cá… Recomendo aos cépticos – e só para começar, ele há muito bom exemplo português por onde escolher! – a consulta de duas antologias que são duas admiráveis «experiências» do imaginário lusitano: A Experiência do Prodígio: Bases Teóricas e Antologia de Textos Visuais Portugueses dos Séculos XVII e XVIII (IN-CM, 1983), de Ana Hatherly, e Antologia do Conto Fantástico Português (Edições Afrodite, 2.ª ed., 1974), editada por Fernando Ribeiro de Mello, uma antologia de ficções fantásticas de 35 autores portugueses dos séculos XIXe XX, com um recomendável estudo introdutório por E. M. de Melo e Castro.
Vem tudo isto a propósito de duas ou três coisas que importa considerar: o livro Visões, que o leitor tem entre mãos, a epígrafe de Mário-Henrique Leiria que antecede este prefácio e a conversa sobre «raízes».
As Visões de Octávio dos Santos são mesmo «visões» que assumem a forma de pequenas-grandes histórias; agridem-nos por entre o horror, o extravagante, o fantástico, o satírico, o atroz e o sociológico, com muito «realismo» subliminar à mistura. O seu autor, especializado em Sociologia e Economia, e que foi – entre outras actividades – colaborador do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, teve o instinto arguto de criar um fantástico psicossociológico que tira partido do «terror» da política, do trivial, do lado negro da História, da informação e do consumismo, terror a que infelizmente nos amoldámos por uma hábil anestesia que o «sistema» nos injectou, para melhor o servirmos e de nós melhor se servir. É tempo de «acordar!», grita-nos Octávio dos Santos por um altifalante com muitas bocas – as bocas todas de cada um dos seus «contos» que me fizeram irresistivelmente recordar um outro autor que também gritava através dos seus contos, nem que fosse depois de morto, «um último viva a revolução». Já sabem, estou mesmo a falar de Mário-Henrique Leiria e dos seus Contos do Gin-Tonic (1973) mais os seus Novos Contos do Gin (2.ª ed. revista, 1978). A epígrafe em forma de poemeto ao cimo deste preâmbulo é do primeiro destes dois livros, e agora sim, vou mesmo falar de «raízes», finalmente.
Isto de raízes tem muito que se lhe diga. A originalidade das Visões de Octávio dos Santos não é uma originalidade saída do vazio, ou reformulada a partir de modelos alienígenas – alienígenas, quero dizer, tanto os habituais «lá de fora» (anglo-saxónicos, de preferência…) como sobretudo os de outras galáxias, haja em vista o seu pendor para a ficção científica, confirmado pelas distinções que obteve no Prémio Literário de Ficção Científica organizado pela associação Simetria FC & F no ano 2000. Fiquemo-nos pela lusitana «galáxia», que já tem muito por onde o situar, e pelo modelo cáustico de Mário-Henrique Leiria, considerado em muitos aspectos «fundador» entre os nossos modelos de «ficção especulativa». Este, sobretudo, é um modelo muito forte e de boas raízes, e tiro o chapéu a Octávio dos Santos pela forma exímia como soube testemunhar e reerguer, bem alto, o facho (de «luz negra»?) da maratona.
Mas, atenção! Já que falamos em raízes, recordemos que o próprio Mário-Henrique Leiria tão-pouco surgiu do nada, é um continuador-inovador na corrente da «ficção visionária» portuguesa, e, com a devida licença – e indulgência – do leitor desejoso de bisbilhotar mais umas coisitas sobre estas palpitantes matérias, aproveito o ensejo para fazer um breve excurso sobre a história dessas tais «fantásticas» raízes (e só para nos cingirmos ao século que passou) donde brotaram os frutos de Mário-Henrique Leiria e de Octávio dos Santos.
Ora vejamos: nos princípios do século XX a literatura fantástica em Portugal limitou-se a prolongar o que vinha dos fins do século anterior, e que já tive ocasião de abordar em outros prefácios desta colecção dedicados precisamente a autores portugueses do século XIX.
Os dois exemplos mais flagrantes que costumam ser referidos nesse período inicial do século XX são Fernando Pessoa (1888-1935) e Mário de Sá-Carneiro (1890-1916).
Do primeiro podem reter-se algumas prosas de ficção como, por exemplo, «Um Jantar Muito Original» (1907), onde o fantástico se mistura com o horror do mais frio canibalismo, «A Rosa de Seda» (1915), que finge ser uma antiga fábula, e uns fragmentos da novela «Czarkresko», que deixou incompleta.
O segundo é mais propriamente um autor «negro», onde o fantástico se associa ao horror e às obsessivas preocupações com a morte, a loucura, os estados de alma tragicamente depressivos, o suicídio. Para além da sua obra-prima, A Confissão de Lúcio (1914), onde a tortura moral do protagonista e o pesadelo são levados a extremos alucinatórios, é porém na sua colectânea de novelas Céu em Fogo (1915) que o fantástico de Sá-Carneiro mais claramente se recorta, sobretudo em «A Grande Sombra» ou em «O Fixador de Instantes», e talvez mais ainda em «A Estranha Morte do Prof. Antena», considerada a primeira novela portuguesa de ficção científica.
Historiando mais um pouco, constatamos que foi somente na primeira metade do século XX que as obras de teor fantástico produzidas em Portugal começaram a libertar-se do gótico do século anterior – e para isso terá concorrido sem dúvida o advento do surrealismo entre nós, que, ao renovar o «visionário» com uma nova tónica, produziu bons frutos narrativos, além da sua expressão em poesia e em artes plásticas. São de realçar, dentro do fantástico, a obra-prima de ironia e humor de António Pedro, Apenas uma Narrativa (1942), além dos textos de Virgílio Martinho e Mário Cesariny de Vasconcelos.
Ultrapassar o real e captar os mistérios que irrompem entre o sonho e a realidade foi uma constante do fantástico de José Régio (1901-1969), um dos «grandes» da literatura portuguesa. Essa característica é flagrante no seu romance O Príncipe com Orelhas de Burro (1942) e mais ainda no livro de contos Há Mais Mundos (1963), dos quais a Profª. Maria Leonor Machado de Sousa destaca o «Conto de Natal» no seu estudo sobre O Horror na Literatura Portuguesa (ICP, 1979), referindo-se-lhe nos seguintes termos:
«É de salientar “Conto de Natal” onde há um monstro meio animal, “talvez dos princípios do mundo”, que aterroriza toda a população das serras onde vive e que, ao morrer, se transforma num ser de beleza sem igual, numa metamorfose que só a um pastorzito ingénuo é visível. Há aqui uma preocupação alegórica que Régio já exprimira em O Príncipe com Orelhas de Burro (1942), a ideia de que a perfeição não é deste mundo, o que condena à morte os seres que a obtenham. Ao tratar este tema, é completamente livre o recurso ao fantástico, que em ambos os casos chega a ser aterrador.» (pp. 81-82)
Até aos fins da década de 70 do século XX podemos considerar que se encerra um período do fantástico português caracterizado por formas sombrias, talvez ainda reminiscentes da evanescente influência do gótico do século anterior, mais do que por um apelo puro à livre imaginação; entre os exemplos mais citados, salientam-se: Branquinho da Fonseca (1905-1974) - O Barão (1942); Domingos Monteiro (1903-1980) - Histórias Castelhanas (1955) e Histórias deste Mundo e do Outro (1961); José Rodrigues Miguéis (1901-1980) - Léah e Outras Histórias (1958); Jorge de Sena (1919-1978) - O Físico Prodigioso (1977).
Exceptua-se deste «clima» o extraordinário romance de José Gomes Ferreira (1900-1985) As Aventuras de João Sem Medo (1963), a que o próprio autor chamou «panfleto mágico em forma de romance», uma obra-prima de imaginação fulgurante e um dos livros fantásticos mais espantosos, senão mesmo delirantes, da literatura portuguesa.
É então que surgem dois autores de grande relevância, dentro deste segundo período citado, e que merecem uma referência especial – dois nomes que costumam ser invocados pelos modernos autores portugueses de speculative fiction como seus «antecessores», embora as suas produções, por vezes de difícil classificação, oscilem entre o surrealismo, a ficção científica e o fantástico: são eles Mário-Henrique Leiria (1923-1980), de que já falámos um pouco, e Romeu de Melo (1933-1991). Do primeiro, além dos já citados Contos do Gin-Tonic e Novos Contos do Gin, há sobretudo que considerar Casos do Direito Galáctico (1975), uma verdadeira obra-prima, que se projecta luminosamente, como uma asa padroeira, no extraordinário conto (conto?) «Decreto Lei Nº 54» do presente livro Visões. Do segundo autor, Romeu de Melo, ficarão para a história da literatura portuguesa (ficarão? O mainstream é tão vesgo, tardonho e ferrugento…) os romances-do-absurdo AK - A Tese e o Axioma (1959), Não lhes Faremos a Vontade (1970) e A Buzina (1972).
A importância de Mário-Henrique Leiria e de Romeu de Melo como «figuras tutelares» da moderna tradição portuguesa de ficção científica e fantástico ficou bem testemunhada pela homenagem que se lhes prestou por ocasião dos 2os Encontros de Ficção Científica e Fantástico de Cascais de 1997: a antologia de contos intitulada Efeitos Secundários/Side Effects, que nesse ano a Simetria FC & F editou em versão bilingue para assinalar o evento, é antecedida, significativamente, pela seguinte dedicatória: «À memória de Romeu de Melo e Mário-Henrique Leiria, que resolveram transformar-se em luz e viajar através do tempo e do espaço rumo ao coração da galáxia.»
Nas duas últimas décadas do século XX, sobretudo, e nestes inícios do século XXI, o Fantástico português desenvolveu-se e expandiu-se duma forma quase explosiva, fenómeno de certo modo associado ao desenvolvimento e expansão da ficção científica criada em Portugal, bem como à influência da permanente transfiguração das mentalidades a que assistimos todos os dias, com o recurso às novas «magias» possibilitadas pela utilização desenfreada dos computadores, da Internet, dos «efeitos especiais» nos meios audiovisuais…
Enfim, tanto haveria a dizer sobre este explosivo e inesgotável tema que prefiro quedar-me por aqui; a história da «ficção especulativa» portuguesa está viva, frondeja e os seus frutos são cada vez mais saborosos e sumarentos… O leitor que o ajuíze por si, deliciando-se – ou saudavelmente «horrificando-se»! – a ler as páginas que se seguem, e fazendo bem, talvez, em meditar seriamente nos signos, nas cifras e nas passwords que as Visões de Octávio dos Santos nos oferecem «como maçãs de ouro em bandeja de prata».
ANTÓNIO DE MACEDO