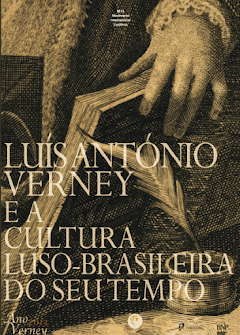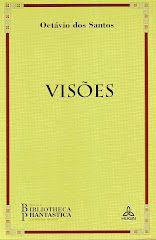O actual primeiro-ministro de Portugal e o governo que lidera têm uma oportunidade única para deixar uma memorável e duradoura marca positiva na História contemporânea de Portugal. À partida, tal tarefa seria (e será?) fácil: os seis anos de (des)governos do Partido Socialista, liderado por essa figura desprezível chamada José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, foram tão maus, tão maus, tão maus… que muito dificilmente se faria pior.
Porém, nunca se esperaria que o percurso do executivo de coligação comandado por Pedro Passos Coelho fosse isento de contradições, de deficiências, de erros, que efectivamente têm acontecido. Por exemplo, não foram propriamente brilhantes os apelos (mais ou menos directos) à emigração, a constatação (a queixa?) de que os políticos não são bem pagos, e a denúncia dos potenciais «piegas». Sim, tais afirmações podem ter sido descontextualizadas, e sem dúvida que no passado recente houve «súcia-listas» que fizeram afirmações semelhantes. Mas as pessoas do PPD/ PSD e do CDS/PP já deveriam saber como a memória – e a comunicação social – podem ser selectivas em Portugal… pelo que deveriam ter mais cuidado com o que (e como o) dizem. No entanto, e obviamente, mais do que dizer, é necessário fazer… e bem. Antes de mais, gerir melhor os dinheiros públicos e privados, não gastar mais do que se recebe, pagar a quem se deve, diminuir os impostos; mas também proceder a alterações concretas… para melhor, na forma como se trabalha em Portugal. Incentivar, introduzir realmente e definitivamente a qualidade, o rigor e a transparência. Promover a responsabilização. Acabar com maus hábitos.
Neste âmbito, a questão dos feriados assume um especial significado, e não apenas simbólico. Contudo, a não concessão neste ano de 2012 da tolerância de ponto no Carnaval – repetindo uma decisão errada tomada, há cerca de 20 anos, por Aníbal Cavaco Silva – foi excessiva e contraproducente: previsivelmente, as «desobediências municipais» sucederam-se. Quanto ao 5 de Outubro e ao 1 de Dezembro, acertou-se em metade: é de louvar, e de apoiar, a «desoficialização» de uma data que celebra a tomada do poder por criminosos, assassinos e terroristas que instauraram uma ditadura; mas é de lamentar, e de repudiar, a «desoficialização» de uma data que celebra a restauração da independência de Portugal. Não é de surpreender que Mário Soares, António Costa e António José Seguro tenham protestado mais sonoramente (ou exclusivamente) contra o fim do primeiro do que o segundo – para muitos «rosinhas» é mais importante ser republicano do que ser independente. E não existirá qualquer «compensação» num eventual «reforço» do 10 de Junho porque o 1 de Dezembro representa(va) o fim de algo iniciado… a 10 de Junho: a morte de Luís de Camões coincidiu com a perda da independência, pelo que aquele que é o «Dia de Portugal» constitui, de facto, o «Dia da União com Espanha».
Todavia, tão ou mais grave, por parte do actual governo, do que eliminar o 1 de Dezembro da lista de feriados oficiais, é a continuação da (tentativa de) imposição dessa aberração cultural que é o «acordo ortográfico». Tão empenhado, e acertadamente, em extinguir várias «sócretinices» que infesta(va)m a sociedade portuguesa, porque motivo o corrente executivo mantém esta, que, além de ilegítima e ilegal, é inútil e insultuosa? As explicações, as «teorias», abundam, mas para se aferir melhor a seriedade do assunto nada como verificar a mudança de opinião (?) de Pedro Passos Coelho sobre aquele. Recentemente, na AR, e em resposta ao «queixinhas», patético, secretário-geral do PS (que exigia a «desautorização» de Vasco Graça Moura que, coerente, corajosa e correctamente, desactivou o AO90 no CCB), Pedro Passos Coelho afirmou que o AO «entrou em vigor a 1 de Janeiro deste ano, assim o confirmam os manuais escolares, assim como todos os actos oficiais, e ele será cumprido». Contudo, em 2008, o então candidato à presidência do PPD/PSD considerava que o AO «não representa (qualquer) benefício para a língua e cultura portuguesa, pelo que não traria qualquer prejuízo que não entrasse em vigor. De resto, não vejo qualquer problema em que o português escrito possa ter grafias um pouco diferentes conforme seja de origem portuguesa ou brasileira. Antes pelo contrário, ajuda a mostrar a diversidade das expressões e acentua os factores de diferenciação que nos distinguem realmente e que reforçam a nossa identidade.»
Recorrendo a outras palavras do actual primeiro-ministro, e também recentemente proferidas, pode-se dizer que «uma nação com amor-próprio não anda de mão estendida»... a deitar fora a sua ortografia, parte da sua língua, da sua cultura, da sua identidade e dignidade. Que Pedro Passos Coelho não tenha dúvidas: o «aborto ortográfico» nunca entrará plenamente em vigor; a maioria dos portugueses nunca o aceitará, pelo que é uma «causa» perdida que nem a força do Estado será suficiente para tornar justa… e triunfante. Fica pois o aviso, e o conselho, ao PM: ouça as vozes que vêm de Portugal (e até do seu partido!) e também do Brasil e de Angola, e desista desta afronta. Ganhará em popularidade e em prestígio… se tomar a decisão certa. Preferíamos não o dar por perdido. Não queira cair no mesmo «clube» de um certo e desavergonhado energúmeno que agora se passeia em Paris. (Reflexão também no Esquinas (114) e no MILhafre (51).)